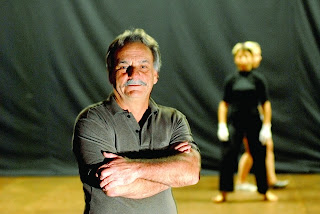O presente estudo utiliza-se de história
oral e de entrevistas realizadas durante todo o ano de 2005 na casa do ilustre
personagem; acompanhado sempre pelo fiel companheiro e filho, Marco Aurélio.
Todo o material aqui reproduzido – incluindo os anexos presentes ao final do
trabalho – são inéditos e até então não tinham sido publicados (com exceção dos
trechos referentes aos cineclubes de Ribeirão Preto; presentes em outro estudo
de minha autoria). Parte do trabalho é fruto da apresentação de monografia, no
mês de dezembro do mesmo ano. Salienta-se que, na ocasião, ainda foram
produzidos um documentário de oito minutos e um jornal impresso inédito de doze
páginas, intitulado Claquete.
******************************************************************
“Tenho
que quebrar a cabeça olhando para o papel em branco. Na verdade, eu
mais rasgo papel que escrevo histórias, não existe qualquer linha condutiva em
meus escritos. Eu não pertenço a esta realidade dos brasileiros, jamais
consegui imaginar histórias que tivessem o Brasil como cenário, pelo menos em
meus inúmeros trabalhos literários”.
Nascido
em Santa Rita
do Passa Quatro (SP), em 1930, o escritor passou sua infância por entre algumas
ruas em construção da cidade de São Paulo, época esta em que seus pais
realizavam muitas viagens. Após a Segunda Grande Guerra, em 1945, seus pais
resolvem se mudar para uma cidade menor, pois as despesas eram muitas e a renda
anual da família não era das melhores. A cidade de Ribeirão Preto foi a
escolhida, onde Rubens passaria boa parte de sua vida pessoal e profissional.
Aos
treze anos, começou a trabalhar. Teve tantos empregos que chega a perder a
conta quando questionado. Almoxarife, gerente de cinema, jornalista, editor e
colaborador de revistas estrangeiras de ficção científica e cinema. Sua vida
sempre foi muito ligada à leitura, seus interesses pelas histórias em
quadrinhos de terror e horror (muito freqüentes nas décadas de 1940 e 1950, por
causa de monstros como Frankenstein), surgiram sozinhos. Garante que é oriundo
de uma família que não era nem um pouco apegada à literatura: “Meus pais
achavam um absurdo um filho deles perder tempo com leituras consideradas
infantis e sem escopo”, afirma.
Seu
primeiro contato profissional com o mundo dos quadrinhos se deu aos quinze
anos, quando uma trama policial sua (embora considerada pelo próprio um pouco
ingênua), foi publicada por um jornal local. Lucchetti relembra revistas muito
lidas pelo público infanto-juvenil da época, como a extinta O Lobinho, que ajudaram
a pavimentar seu gosto pela leitura. Através de amizades diversas conseguidas
por intermédio de suas inúmeras funções culturais na cidade de Ribeirão Preto,
o escritor começa a trabalhar em jornais locais, ora escrevendo colunas, ora,
novelas divididas em capítulos (hábito em periódicos até a década de 1960).
Sua
paixão pelo cinema também o ajudou a seguir um caminho diferenciado. “Baseado em filmes que eu via desde muito
pequeno e em pequenos exemplares aos quais eu tinha acesso pela minha profissão
[os gerentes de cinema tinham contato direto com os rolos de exibição], tive a
certeza de que trabalharia neste meio, só me faltavam as oportunidades”.
Foi por ter esta paixão declarada pela sétima arte que Rubens Lucchetti começou
a organizar festivais culturais na cidade de Ribeirão Preto, com a ajuda de
amigos como o também artista e multifacetado Bassano Vacarini. Desta fase –
início dos anos 1960 – ficou nacionalmente conhecido por ter proporcionado para
a cidade um festival de homenagem a Charles Chaplin. “Cheguei a mandar uma carta a ele para lhe contar da homenagem. Fiquei
embasbacado quando ele me respondeu, agradecendo esta minha ação”, recorda.

Em
um dia de 1964, em um dos jornais que lia diariamente, Rubens se deparou com a
imagem de um cartaz que trazia impressas as palavras “Aguardem! À MEIA-NOITE
LEVAREI SUA ALMA!”. Rubens não entendeu de imediato, principalmente depois de
descobrir que o cartaz vinha impresso todos os dias da semana. Uma tarde, ao
passar em frente a um dos cinemas da cidade, no centro, viu o cartaz do filme e
resolveu entrar na sessão para assistir. “Eu
simplesmente odiei o filme. Mas depois que vi aquele homem de capa e chapéu
pretos na tela, tive a certeza de que um dia trabalharia com aquela pessoa”.
Nesta
época, Rubens conheceu Sérgio Lima, famoso homem da cidade de São Paulo, que
funcionava, à época, como um famoso promotor de eventos e celebridades. Foi por
causa dele que Mojica tomou conhecimento do roteirista. Em um dia de 1967,
Sérgio mandou uma carta a Rubens lhe pedindo uma visita a São Paulo, para que
ele entrasse em contato com um amigo. Este amigo era José Mojica Marins, o Zé
do Caixão. “O primeiro contato nosso foi
péssimo. Mojica me pareceu uma pessoa prepotente e distante, mas mesmo assim me
chamou para ir a seu estúdio no dia seguinte e eu fui”, conta ele, que, por
sorte, já estava contratado por Mojica, ao adentrar o estúdio que era uma
sinagoga. “Ele foi logo me pedindo para
escrever três histórias para ele, e eu, em um entusiasmo muito grande, escrevi
o que mais tarde serviria de base para o filme O Estranho Mundo do Zé do Caixão
(1968)”.
O
trabalho com Mojica era intenso, o ritmo de produção de textos era desumano. Mojica
tinha um estúdio e Lucchetti começou a prestar serviços exclusivos para ele.
Isso ocorreu entre os anos de 1968, 1969, quando também começaram a trabalhar
para redes de televisão – algumas ainda em processo de inauguração. Em 1967,
Mojica já tinha um trabalho na televisão, um programa de variedades dirigido
por Antônio Seabra e Mário Pomponet. Depois de uma mudança de contrato, o
programa (que originalmente era veiculado pela Rede Bandeirantes e passou a ser
exclusivo da Rede Tupi, com novos orçamentos e novos cenários) mudou de rede e
mudou de direção. Antônio Abujanrra foi o responsável por dirigir este novo
programa, que logo, fracassou, pois não conseguiu atingir os antigos índices de
audiência da emissora rival. As classes A e B, formadoras de opinião, já haviam
migrado para a recém-líder Globo. “A
televisão é hipócrita e mesquinha e a culpa pelo programa ter chegado ao fim
foi do Mojica, que não soube dar o devido valor àquilo que eu tinha nas mãos”,
declara Lucchetti.
No
entanto, apesar da forte amizade e de freqüentar quase que diariamente a casa
um do outro, Lucchetti nunca acompanhou as filmagens de seu personagem mais
famoso. “Para a idéia do ‘Ritual dos
Sádicos’ (1969), que demorou menos de dois minutos para ser concluído, nós
tínhamos algumas cenas externas que poderíamos fazer e foi exigido de mim que
eu dissecasse o personagem mítico de Zé do Caixão, pois, na época, o personagem
estava muito em evidência, em praticamente todos os veículos de comunicação no
Brasil todo. A idéia de que usássemos um tema contemporâneo nosso foi
surpreendente e resolvi arriscar, escrevendo um roteiro que utilizasse o uso e
consumo das drogas como pano de fundo para as loucuras do Zé do Caixão”.
O
filme mais importante da carreira de Mojica é também o mais complexo em termos
de financiamento e estética na tela. Lucchetti teve a idéia de filmar de duas maneiras
distintas, utilizando cores nos sonhos dos personagens viciados e
preto-e-branco na realidade torta dos que habitam a trama toda. “O Mojica filmava em menos de dois meses, e
nunca mencionou orçamentos e quantias recolhidas. Toda a idéia do roteiro é
minha; a única coisa que partiu dele foi o final – que foi filmado de duas
maneiras, quando, embasbacado, o personagem dele olha para as câmeras e diz
‘Corta’. Para mim, isso é coisa de gênio”, conta o roteirista.
A
via-crúcis para que o filme fosse lançado foi complicada. O filme continua
inédito em cinemas (e, recentemente, foi lançado em DVD por uma distribuidora
independente, ao lado de outras obras do cineasta) e só é conhecido por
pequenas rodas de entusiastas e conhecedores da sétima arte. Interditado pela
censura em 1969, a
cópia original só foi liberada em 1983 (época em que o diretor já estava
envolvido com o cinema da Boca do Lixo, em produções de sexo explícito) mas o
filme que Lucchetti viu em uma sessão especial no cinema de Ribeirão Preto foi
outra. “O exemplar mostrado para mim já
não era o mesmo. Modificaram a introdução e trechos que eu me lembro de ter
escrito nunca mais foram encontrados. O Mojica não pode ser inteiramente
culpado, pois, depois de quinze anos, fica difícil para uma pessoa que mexe com
tantos filmes, se lembrar lucidamente de determinadas seqüências”.
Para
Lucchetti, o filme que mais sintetiza sua parceria com Mojica é mesmo o
primeiro trabalho registrado da parceria, O Estranho Mundo de Zé do Caixão. “Foi o filme que ele mais seguiu o que estava
escrito, registrando em imagens cerca de 70% das minhas idéias. As mudanças ele
fazia por conta própria e eu nunca ficava sabendo, pois além de não acompanhar
as filmagens com afinco, quando ele ia lá em casa, nossa conversa não era
profissional e sim, para jogarmos conversa fora”, conta ele. “Quando eu era funcionário do Mojica, para
preencher o meu tempo, tinha que escrever e, então, várias idéias partiram de
mim, mas, infelizmente, não há cópias destes trabalhos aqui comigo que eu possa
disponibilizar”.
Para
trabalhar no ritmo em que trabalhava, Lucchetti teve que fazer a mudança com
toda a família (na época, o escritor já era casado com a já falecida Dona
Teresa e tinha um filho pequeno, Marco Aurélio, que sempre acompanhou o trabalho
do pai muito de perto) para a cidade de São Paulo. Foi através de trabalhos de
terror que conheceu outra figura emblemática do nosso cinema: Ivan Cardoso, com
quem chegou a escrever roteiros e até a participar de festivais concorrendo na
seleção oficial (como exemplo, podemos citar o Festival do Rio, RioCine de
1986, com o roteiro original do filme As Sete Vampiras).
Na década de 1960, era muito difícil, no
Brasil, haver um respeito muito grande com os criadores e escritores de
histórias em
quadrinhos. Lucchetti, ao lado de seu melhor amigo e parceiro
de trabalho, Nico Rosso, realizou uma série de histórias protagonizadas por
Mojica e seu personagem, o Zé do Caixão. Nico Rosso já era famoso por seus
desenhos na época em que conheceu Lucchetti. Morreu em 1981, poucos meses após
uma enchente levar toda sua coleção de desenhos embora, acidente este que
destruiu toda biblioteca de sua casa. Lucchetti nunca teve um amigo como Nico
Rosso, que, segundo ele, entendia a dinâmica de sua narrativa.
A revista O Estranho Mundo de Zé do
Caixão foi um êxito nas prateleiras das bancas. “Na época, não havia nada que se comparasse às nossas histórias. O Nico
era um gênio, e eu, além de escrever todas as histórias, ainda arranjava tempo
para diagramar e disponibilizar os quadrinhos de forma que a trama parecesse
mais interessante. Se parássemos hoje para analisar cada quadrinho produzido
por Nico, veríamos que continua sendo uma coisa inovadora, mesmo depois de
quarenta anos passados”, afirma.

A Editora Prelúdio atingiu seu ápice de
vendas com a revista, que, na época, era vendida por muito dinheiro. A editora
começou a atuar em São Paulo
na década de 1920, publicando pinturas e pequenos livretos musicais. Seu
proprietário foi Arlindo Pinto de Souza, que abandonou o cargo em 1995.
Atualmente, a editora possui outro nome, Luzeiro. Fez fama na década de 1960,
justamente por publicar as histórias de Zé do Caixão. Enquanto uma revista
normal custava em torno de cinquenta centavos, a que eles produziam chegava a
custar dois reais (em termos comparativos). Era um custo alto, mas com as
histórias, Lucchetti e Mojica conseguiram moldar ainda mais o público de seus
filmes e suas maluquices. Porém, assim como todas as investidas de Mojica, a
revista passou a ser prioridade de outra editora, a Dokas, fazendo com que a
qualidade gráfica do material e a vontade de continuar produzindo material
inédito minguassem.
Ao todo, foram dez exemplares produzidos
e comercializados, sendo seis pela Editora Prelúdio e quatro pela Dokas. Foi um
período de inovação nos quadrinhos brasileiros, muito embora ainda não existam
estudos que destrinchem todos estes materiais.
Lucchetti já morou em várias cidades,
como o Rio de Janeiro. Mas, após um período de recesso (talvez uma estafa
mental), voltou a Ribeirão Preto. Com a família estabelecida e o filho já
formado, resolveu novamente se afastar para uma cidade mais pacata e tranqüila.
“Não me lembro ao certo o ano em que nos
mudamos para Jardinópolis, mas isso foi uma coisa boa. Em Ribeirão, após tantos
anos prestando serviços para a cultura local, as pessoas parecem que se
esqueceram de mim, embora hoje haja uma sala com meu nome no MIS (Museu da
Imagem e do Som) da cidade”, cita, um pouco chateado.
Na cidade de Ribeirão Preto (SP), a
primeira pessoa responsável por trazer um cineclube para deleite dos moradores
foi Rubens Francisco Lucchetti, já em fins dos anos 50. Ajudado por um primo
jornalista (Luciano Lepera) atuante em diversos periódicos da época, Lucchetti
criou o Clube de Cinema – porque era também um apaixonado pela Sétima Arte. O
autor, oriundo de São Paulo, relata que, apesar de Ribeirão Preto, à época,
possuir diversos meios de comunicação em que se propagava cultura, ela ainda
era uma cidade “apática”:
Em junho de 1959, o Centro Médico
traz para Ribeirão Preto o Paulo Emílio Salles Gomes, para ministrar um curso
sobre expressionismo no cinema. Lembro que fui com um amigo meu inseparável, o
Moreira Chaves. Como eu sou muito tímido, sentei nas últimas fileiras para
ouvir o Paulo Emílio, que tinha muito nome – ele era crítico de cinema do
Estado de São Paulo, e toda semana eu o lia. Comecei a amadurecer a minha idéia
do Clube de cinema, porque tinha a idéia de que o público teria a oportunidade
de ver os filmes que eram impossíveis de serem exibidos no cinema; que se
restringiam a passar os filmes contemporâneos. Ele enfatizou a possibilidade de
Ribeirão ter um curso de cinema. Veio de encontro com aquilo que eu pensava.
Em parceria com um grupo de entusiastas
que queriam algo diferenciado para a cidade, após o curso, realizou-se uma
reunião, onde foi fundado o Clube de Cinema de Ribeirão Preto (o autor cita uma
dupla de nomes significativos: Dra. Glete de Alcântara, Dr. Carlos Diniz – que
viria se tornar o presidente do Clube) – como Entidade Grêmio da Associação de
Cultura Brasil - Estados Unidos. Localizado na Rua Barão do Amazonas, quase
perto do Cine Centenário (famoso cinema da época), a sede também era
responsável pelas projeções. Tais atividades no local funcionaram durante dois
meses, segundo Lucchetti. Eram exibidos de oito a dez filmes diferentes, e o
responsável pelas projeções também era ele: “Tudo isso eu fazia sozinho. A freqüência era muito baixa, em torno de
três a quatro gatos-pingados, o diretor mesmo quase sempre não aparecia.
Algumas vezes terminava a sessão sem qualquer alma viva na sala”. Logo, o
entusiasta foi percebendo que não era bem a idéia que sempre sustentou, mesmo
porque, atuando na área jornalística como crítico, ele aproveitava para fazer
promoção do seu Clube de Cinema.
Em agosto de 1959, com pouco mais de um
mês de atividades cinematográficas, o crítico Paulo Emílio volta à cidade para
fazer a inauguração oficial do Clube de Cinema, com o filme “Guardas e
Ladrões”, de Stenio Monicelli. A grande proposta do Clube, era, portanto,
divulgar a arte da forma mais pura e ampla. Coisas que as pessoas não teriam
condições de apreciar em um cinema comercial,veriam no Clube de Cinema:
Eu comecei a entrar em contato com
embaixadas e consulados e eles começaram a me mandar filmes como O Testamento
de Orfeu e alguns do Murneau. Eram coisas que nem eu conhecia, era tudo novo
para mim. As coisas não eram como são hoje: o que uma pessoa gasta vendo em um
mês eu levava dez anos para assistir.
O Clube de Cinema funcionava bem, segundo
as palavras de seu fundador. A grande prova disto foi a tentativa de Lucchetti
em montar uma semana com os filmes de Charles Chaplin, porque, segundo o
próprio, era um desejo que ele nutria desde garoto, uma vez que sempre
colecionou fotos, artigos e tudo que saía na imprensa relacionado ao gênio do
cinema. Munido de coragem e muita auto-confiança, Rubens então monta um projeto
(não profissional da maneira que se conhece hoje, mas algo que veio da
intuição): “Não entendia nada de projeto,
fazia as coisas por intuição. Só depois que fui descobrir que o sistema de
criação que eu usava era o francês – uma descrição literária”.
E o autor é veemente em afirmar que todas
as etapas de criação da Semana (que chegou a ter repercussão até mesmo fora do
Brasil, já que o próprio “homenageado” soube da tal empreitada, respondendo uma
carta endereçada a Rubens) foram de inteira responsabilidade dele. Ele colava
cartaz pela cidade afora, corria atrás de tablóides e escrevia textos nos
jornais, assim como ia atrás de exibidores e distribuidores para sentirem o
projeto em prol do público, sempre muito carente de cultura, tomar forma. Na
época, os filmes de arte não ocupavam mais do que uma semana em cartaz nos dois
cinemas principais da cidade, o Centenário e o São Luiz. Em comparação, os
filmes comerciais, por pior que fossem, por menos tempo que ficassem em
exibição, conseguiam uma soma monetária mais satisfatória para os cofres das
produtoras. Para o autor, o grande problema era o de que os distribuidores não
sabiam trabalhar as promoções que ofereciam ao grande público. Para eles, o que
importava era o dinheiro pelo dinheiro. Arte era uma coisa que não se discutia,
e, acima de tudo, não dava retorno financeiro (de modo que, quando Rubens
conseguiu patrocínio de um distribuidor este sabia estar entrando em mais uma
“roubada”).
Mas o que aconteceu foi exatamente o
contrário do que se esperava: houve muito público para as sessões, o que, no
dia-a-dia, era incomum. Foram exibidos no decorrer da Semana quatro filmes (Em
Busca do Ouro, 1925; Tempos Modernos, 1936; O Grande Ditador, 1940 e O Garoto,
1921), além de haver amostras de músicas, poesias e exposições fotográficas,
tudo isso acontecendo no Centro Danti Alligheri em parceria com os dois
principais cinemas da cidade. “Um dia,
saí para almoçar às 13h30min e a fila em frente ao cinema dava voltas, passava
pela prefeitura e virava a Duque de Caxias. Foi um sucesso tremendo”.
Se esta foi uma boa experiência para a
vida cultural da cidade de Ribeirão Preto, qual foi o motivo do término do
Clube de Cinema? Além da falta de público e do desinteresse geral por parte da
população da cidade (que só comparecia mesmo quando havia sessões especiais e
temáticas), a própria estrutura não soube se sustentar. Depois de alguns anos
tendo sede no Centro Ibero-Americano, perto da casa do próprio fundador,
localizada à Rua Sete de Setembro (o que facilitava a locomoção dos projetores,
das latas de filmes, dos cartazes), o Clube foi transferido para a Escola de
Artes Plásticas, o que complicou a vida de Lucchetti, porque a distância não
permitia que houvesse muitas sessões, uma vez que era difícil carregar rolos e
mais rolos de filmes:
Era sempre o zelador, Seu Antônio,
quem projetava os filmes na Escola de Artes Plásticas. Ele sempre reclamava,
porque muitos dos dias, as sessões terminavam sem qualquer alma viva na sala.
Chegou um dia que eu não estava fazendo o Clube para alguém, mas para mim
mesmo. Era um mundo de sonhos que eu tinha em mãos. Fui um grande
mentiroso nesta história toda, porque eu falava que o Clube era uma entidade,
mas era uma entidade de um homem só.
Além disso, por uma extrema necessidade
de mudança de projetos pessoais na vida do “homem múltiplo”, as sessões
passaram a ser quinzenais. Lucchetti então passou a se dedicar mais a alguns
projetos experimentais em parceria com pessoas conhecidas da cidade, como
Bassano Vacarini e Tony Miyasaka. Nos idos de 1963 até 1965, foram poucas as
sessões do Clube, sempre com alguns filmes selecionados. Muitas das vezes, os
filmes que eram exibidos eram vistos sem legendas. Para Rubens, o que importava
mesmo eram as imagens. Até hoje existem filmes que Lucchetti desconhece o nome,
mas tem certeza de que já assistiu a eles. Durante estes dois anos, apenas um
homem mostrou interesse e tempo de dedicação ao Clube, além do próprio
fundador, mas, infelizmente, o nome do sujeito se perdeu no tempo:
Quando eu fui embora para São Paulo,
em julho de 1966, o Clube morreu. Todo o movimento cultural, não só o promovido
pelo Clube de Cinema, foi embora junto comigo. Se fosse uma entidade mesmo,
como desde o princípio era a proposta, o Clube teria continuado. É ruim falar
no nome próprio, mas sou obrigado a falar. Quando de novo, vim para Ribeirão
Preto, perguntava para as pessoas sobre os projetos culturais e nada. Ribeirão
Preto é uma cidade complicada. Ela é uma cidade de festinha, de barzinhos, de
micaretas e de Carnabeirão. De cultura não tem nada.
A tranqüilidade e os merecidos anos de
descanso refletem em cada pedacinho de sua casa, simples e acolhedora. A
característica já difere das casas “normais”, pois a entrada é pelos fundos,
por onde se passa um quintal e se adentra a cozinha. “Tive que lacrar a porta de entrada da minha casa, pois o meu acervo de
livros é muito grande, e tomou um bom pedaço da área principal”. A idéia de
curtir um merecido descanso é ainda maior quando Lucchetti diz que não gosta de
telefone – o utiliza apenas por trabalho – e também não aprecia a internet. “Ainda escrevo todas as minhas histórias em
uma máquina antiga, que conservo desde os anos ‘60”.
Em sua biblioteca, hoje, constam mais de
quarenta mil livros, dos mais diversificados. Existem outras peculiaridades em
sua casa, como, por exemplo, a enorme coleção de relógios que ocupa uma boa
parte da sala de estar. É de se estranhar o motivo de tantos modelos. “As pessoas acham esquisito, mas essa
quantidade enorme de relógios tem uma explicação. Enquanto morávamos no Rio de
Janeiro, minha mulher trabalhava em uma lojinha típica que vendia esses
objetos. Quando mudamos de cidade, tivemos que fazer o transporte de todo esse
material, pois a lojinha faliu. Como não encontrávamos alguém que se
interessasse por eles, os relógios ficaram estocados”, explica.
Atualmente, Rubens continua escrevendo
histórias, por encomenda. Sua mulher é recentemente falecida. Roteirizou o
filme Um Lobisomem na Amazônia, do diretor Ivan Cardoso, produzido por Diler
Trindade (“Roteiro que gosto muito e que
foi completamente modificado. Não gostei do resultado final e tenho até
vergonha de mostrar uma cópia do filme para as pessoas”) e escreveu uma
história que transcorre em Londres e tem como base os crimes de Jack, o
Estripador; trama de trinta e duas páginas lançada pela editora Opera Graphica.
Seu filho, Marco Aurélio, é encarregado de tomar conta de toda sua obra, além
de escrever diversos livros e se envolver constantemente com o núcleo cultural
da cidade de Ribeirão Preto (ele organiza, coordena e palestra em cursos de
cinema oferecidos pelo Cineclube Canarinho; além de manter, online, uma
publicação dedicada à sétima arte, o Jornal do Cinema).
Quanto
à sua relação com José Mojica Marins, ele é veemente. “Logicamente, perdemos um pouco o contato, mas até hoje ele me liga,
pelo menos uma vez ao mês para dizer e explicar novas idéias para um roteiro.
Nossa amizade é ainda muito forte”. Quanto ao futuro, costuma ser mais
ponderado. “Para mim, não existe esse
negócio de futuro. Pretendo mesmo é continuar morando aqui, fazendo o que gosto
de fazer e o que me faz sentir bem, que é escrever e contar histórias".
.jpg)